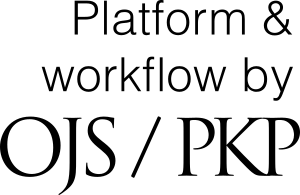Chamada para Dossiê “A ditadura nunca terminou”: repensando marcações temporais acerca das transições democráticas
“Guerra às drogas", "guerra ao crime", "guerra contra a subversão", "guerra ao terror", mas também “inimigo”, “cidadão de bem”, “revolução”, “comunistas”, “marxismo cultural”, “ideologia”. Três décadas e meia de forma democrática no Brasil e essas são palavras correntes na vida social e política contemporânea. Longe de ser uma prática ditatorial passada, o recurso à violência institucional e a construção de inimigos internos são aqui assumidos como instrumento fundamental da forma de governo contemporaneamente conhecida como democracia.
Já desde o início dos anos 1990 que estudiosos da violência e da política constataram, não sem algum assombro, que o processo brasileiro de redemocratização veio acompanhado do aumento do crime violento e do homicídio, sobretudo nas grandes cidades. No Rio de Janeiro, uma “guerra particular” (LUND; SALLES, 1999) já vinha sendo travada desde os anos 1980 entre facções criminais e policiais que disputavam sem pudor os territórios da cidade para o varejo de cocaína. A mesma guerra foi se espalhando pelo país, em outras configurações e temporalidades, mas também fez crescer as taxas de homicídio e de encarceramento. As chacinas se tornaram recorrentes. A altíssima permissividade da violência perpetrada por agentes do Estado nas periferias urbanas, desde então, faz com que hoje, enquanto muitos ainda rememoram esses anos como os de consolidação democrática, nas periferias e favelas paulistas, é comum que o período seja lembrado como “a época das guerras” (FELTRAN, 2012).
O Brasil tem hoje cerca de 700.000 presos adultos (quantos milhões de ex-presidiários?), milhares de pessoas circulando entre unidades de internação, comunidades terapêuticas, hospitais de custódia e albergues, outros milhares vivendo nas ruas, muitos desaparecidos. As famílias diretas desse contingente de pessoas estão submetidas a todo tipo de humilhação cotidiana - a expressão é êmica. Em meio à pandemia de COVID-19 e desafiando a recomendação do STF a partir da ADPF 635 de não realização de operações militares nesse contexto sanitário, houve a maior chacina da história da cidade do Rio de Janeiro, na localidade do Jacarezinho, com 28 mortos.
Constatamos, talvez mais do que nunca, que as “forças de segurança” (polícia militar, exército, polícia civil, guarda civil e seus destacamentos especiais; incluindo o seu derivado obscuro - o milicianismo) se tornaram atores centrais para reger a questão social e para a produção contemporânea da ordem urbana; a militarização recente das cidades, espetacularizada, têm funcionado, entre outras coisas, para produzir os inimigos públicos a combater. Bem estabelecidos os inimigos, há mais necessidade de segurança e repressão, em um ciclo de acumulação social do conflito urbano como violência (MISSE, 1999) que, no limite, chega a situar a guerra como plano de referência da política (LEITE, 2001).
Os contrapoderes guerreiros que emergem hoje em oposição às forças estatais - facções criminais - seriam, entre outras coisas, também efeitos colaterais das próprias políticas de ordenamento urbano, dos próprios dispositivos guerreiros (como a “guerra às drogas”), centrados progressivamente na disposição da violência policial contra setores específicos da população. Os bandidos que o senso comum idealiza existirem, em sua perversidade e sujeira, negritude e pobreza, são a contrapartida pela qual se idealiza a polícia, preocupada em manter a ordem - nos noticiários.
A etnografia realizada junto a esses sujeitos, entretanto, desnaturaliza oposições morais. A segurança pública contemporânea centrada na polícia, idealizada como resposta de autoridade frente ao ‘crime' e à marginalidade, parece, ao contrário, co-produzi-los. Mas isso não é tudo - essa produção tem efeitos sociais letais (as polícias no Brasil extorquem, torturam e matam demais) e efeitos políticos francamente autoritários sobre a cena pública: cinde-se a comunidade política em duas, os cidadãos ordeiros, “de bem”, que merecem direitos, e os marginais que os ameaçam.
Em 2016, no ano que se completava 10 anos dos crimes de maio de 2006 (quando a força policial paulista matou pelo menos 400 civis), o I Encontro Internacional de Mães de vítimas da violência do Estado, ao seu final, lançou uma carta-manifesto contundente:
“No exato momento em que o Brasil enfrenta um novo golpe institucional contra todos os trabalhadores e trabalhadoras, nós gostaríamos de reforçar aqui que nós nunca nos iludimos com aquilo que muitas valorosas companheiras e companheiros nossos vinham chamando de “governo democrático-popular”: com todo o respeito, companheirxs, nós sabemos – sentimos na pele e em nossas almas, todos os santos dias – que a Ditadura nunca havia terminado para o nosso Povo Negro, Indígena, Pobre e Periférico. Temos como provar isso, começando pelas cicatrizes de nossos próprios corpos junto aos dos nossos meninos mortos ou desaparecidos forçadamente por este “Estado Democrático de Direita”. Como já disse há uma cota o poeta Mano Brown Racionais: ‘pra quem vive na Guerra, a Paz nunca existiu’. Pra quem vive nas Favelas, no Campo e nas Periferias afora do Brasil atual, a Ditadura nunca terminou.” (Disponível em: http://periferiaemmovimento.com.br/queremos-parir-uma-nova-sociedade/).
A potência dessa crítica, como bem observou Azevedo (2019), reside bem mais do que nos fatos denunciados; reside, sobretudo, na maneira como a democracia é interpelada, relacionando a manutenção da ordem pública dita democrática a clivagens sociais de classe/raça e processos de marginalização. E vai além: não assume, porque contradito “na pele e em nossas almas”, “nas cicatrizes de nossos corpos”, a transição democrática.
Movida e desbloqueada pela experiência da dor, a controvérsia teórica e política das mães propõe o Estado como violador contínuo. E nos provoca a pensar sobre as acomodações que, sob o dualismo que separa formalmente os períodos autoritário e democrático, seguem posicionando a segurança pública entre a soberania e a cidadania. Trata-se de olhar para as clivagens que, a longo prazo, distribuem desigualmente as promessas de segurança entre a população como alicerces de dispositivos repressivos capazes de transitar fluidamente entre a defesa nacional e a defesa da sociedade frente às ameaças cotidianas.
Seria adequado caracterizar tais dispositivos como “heranças” ou “resquícios” de um passado ditatorial, ou como desdobramento de uma transição política incompleta ou falha? Trata-se de um problema de mal funcionamento das instituições penais, reparável por meio de tecnologias humanitárias? Nos acostumamos a pensar sobre um Estado permeável à linguagem dos direitos, a ser avaliado, cobrado e reformado em busca de seu “adequado funcionamento”, democrático e humanitário. Mas - eis a aposta - pode haver rendimentos analíticos em abandonar a racionalidade institucional e a temporalidade linear como premissas de nossas reflexões sobre a transição política.
Assim, a proposta deste dossiê pretende reunir etnografias e pesquisas históricas que constroem delineamentos acerca de transições democráticas, desafiando marcações temporais convencionadas e preferindo tomá-las como problema de pesquisa. Parte da ideia de que, como explicação a priori, o binômio democracia/ditadura, muitas vezes, impede-nos de pensar a respeito dos processos que ajuda a descrever e dos problemas que é capaz de ocultar em nossas pesquisas. Nesse sentido, a proposta aqui apresentada, derivada de discussões iniciadas no GT 80, da 32a Reunião Brasileira de Antropologia, visa colocar em debate trabalhos, de caráter conceitual e/ou de diferentes recortes empíricos, para provocar reflexões imprevistas em torno do mesmo problema teórico-político.
Sem limitar os campos de investigação que poderão ser acolhidos, nos interessam trabalhos que problematizem questões como: 1) as implicações das leis de anistia e os silenciamentos impostos a atores sociais que sofreram violências durante a vigência de regimes ditatoriais, assim como a recepção de lutas que reivindicam memória, verdade, justiça e reparação em democracia; 2) o caráter ambíguo de políticas humanitárias transicionais adotadas por países periféricos; 3) as construções de fronteiras e distinções entre crime político e crime comum, e/ou entre segurança nacional e segurança pública, como mecanismos de controle social; 4) a produção de violências em contextos designados democráticos e pós-ditatoriais e em que medida elas podem ser enquadradas, administradas e “legalizadas” nas atuais formas de governo, acomodando dispositivos humanitários a dispositivos securitários; e 5) a mobilização da guerra às drogas e a expansão penal como dispositivos centrais de combate às ilegalidades e controle das populações pobres (majoritariamente não-brancas) em democracia, bem como o debate sobre reparação nos movimentos antiproibicionistas e abolicionistas contemporâneos.
Os artigos devem ter autoria de, ao menos, um doutor, e serão submetidos à avaliação às cegas de pareceristas externos, atendendo à política da revista. Para dar conta da diversidade de abordagens teóricas e metodológicas dos diferentes campos empíricos e problemáticas a serem debatidos, serão aceitos, preferencialmente, artigos das áreas de Antropologia e Ciências Sociais, observados os parâmetros de exogenia em relação à UFF.
Organizadores: Taniele Rui (UNICAMP) e Fabio Mallart (UERJ).
Prazo estendido: 22/02/2022
OBS: indicar nos comentários aos editores que a submissão é para o Dossiê “A ditadura nunca terminou”: repensando marcações temporais acerca das transições democráticas.
As contribuições podem ser enviadas até 22 de fevereiro de 2022 pelo sistema eletrônico da revista: https://periodicos.uff.br/antropolitica/about/submissions#onlineSubmissions
As normas para submissão dos textos são as mesmas válidas para artigos e encontram-se disponíveis em: https://periodicos.uff.br/antropolitica/about/submissions#onlineSubmissions
Referências:
AZEVEDO, Desiree. Reavivar o dissenso - Resenha de ‘Humanizar e expandir: Uma genealogia da segurança pública em São Paulo’, de Adalton Marques (IBCCrim, 2018). Revista Dilemas, v. 12, n. 2, 2019.
FELTRAN, Gabriel. “Governo que produz crime, crime que produz governo: o dispositivo da gestão do homicídio em São Paulo (1992-2011). Revista Brasileira de Segurança Pública, v. 6, n. 2, 2012. Disponível em: https://revista.forumseguranca.org.br/index.php/rbsp/article/view/118/115. Acesso em 13 nov. 2021.
LEITE, Marcia. Para além da metáfora da guerra: percepções sobre cidadania, violência e paz no Grajaú, um bairro carioca. 2001. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) – Programa de Pós-graduação em Sociologia e Antropologia, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2001.
LUND, Katia; SALLES, João Moreira. Notícias de uma guerra particular. Documentário, 1999.
MISSE, Michel. Malandros, marginais, vagabundos e a acumulação social da violência no Rio de Janeiro. 1999. Tese (Doutorado em Sociologia) – Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999.