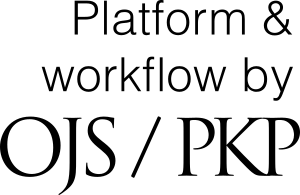Chamada para o Dossiê “Transações e controvérsias com maconha”
Encontra-se aberta a chamada para envio de artigos para integrar o Dossiê “Transações e controvérsias com maconha”, que será publicado em abril de 2026 no número 58.1 da Revista Antropolítica, vinculada ao PPGA/UFF.
Organizadores: Frederico Policarpo (UFF, RJ), Marcílio Dantas Brandão (Univasf / UFPE, PE) e Florencia Corbelle (ICA-UBA/CONICET, Argentina)
Prazo estendido: 07/07/2025. Leia mais em: bit.ly/3XJhXqf
Saiba mais sobre Chamada para o Dossiê “Transações e controvérsias com maconha”