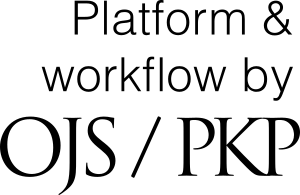Contribuições da Psicologia para a relação professor-aluno
DOI :
https://doi.org/10.22409/1984-0292/v33i2/5792Mots-clés :
psicologia, educação, relação professor-alunoRésumé
As concepções de diferentes abordagens da psicologia – e de outros campos de saber – sobre como o ser humano conhece podem contribuir para a compreensão da relação que se estabelece entre adultos e crianças, adultos e adolescentes e adultos e adultos nos diversos segmentos educacionais, da creche à universidade. Trata-se de artigo de revisão de literatura que tem por objetivo explicitar os principais conceitos das teorias de Jean Piaget, Lev Vigotski, Wilhelm Reich e Martin Buber, buscando com isso elementos que ajudem na compreensão da complexa relação professor-aluno, que vai além da sala de aula, rompendo com uma concepção de ensino como transferência de conhecimento. Essa relação se constrói em um determinado tempo e espaço, marcados por valores, ideologias, normas e discursos. As contribuições da psicologia para a educação devem caminhar no sentido de ajudar a compreender as complexas interações que se estabelecem no interior das instituições educativas, contextualizando os fenômenos e abordando-os no âmbito das relações entre as pessoas, considerando a complexidade que envolve essa discussão.
Téléchargements
Références
BUBER, M. Eu e Tu. São Paulo: Centauro, 2003a.
BUBER, M. El camino del ser humano y otros escritos. Madrid: Fundación Emmanuel Mounier, 2003b.
BUBER, M. Sobre comunidade. São Paulo: Perspectiva, 2008.
CASTRO, L. G. Espaços, práticas e interações na Educação Infantil: o que dizem as crianças. 2015. Dissertação (mestrado). Departamento de Educação. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessário à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2013.
HILLIARD, F.H. A Re-Examination of Buber’s Address on Education. British Journal of Educational Studies, Vol. 21, No. 1, 1973.
JOBIM e SOUZA, S.Construtivismo e Experiência. [mimeo], 1998.
JOBIM e SOUZA, S. e KRAMER. S. O debate Piaget/Vygotsky e as políticas educacionais. Cadernos de Pesquisa, Maio, no. 77, p. 69-80, 1991.
KRAMER, S. Por entre as pedras: arma e sonho na escola. São Paulo: Ática, 2002.
KRAMER, S. (Org.). Retratos de um desafio: crianças e adultos na Educação Infantil. São Paulo: Ática, 2009.
KRAMER, S. Contribuições de Martin Buber para a reflexão sobre/do homem contemporâneo. In: LEWIN, H. Judaísmo e cultura: fronteiras em movimento. Rio de Janeiro: Imprimatur, 2013.
LÖWY, Michel. Redenção e Utopia, o judaísmo libertário na Europa Central. São Paulo: Cia das Letras, 1989.
MATTHIESEN, S. Q. A educação em Wilhelm Reich: da psicanálise à pedagogia econômico-sexual. São Paulo, Ed. Unesp, 2005.
NAVARRO, F. A sistemática, a semiologia e a semântica da vegetoterapia caracteronalítica. In: Revista Energia, caráter e sociedade. Instituto Ola Raknes, Rio de Janeiro, 1990.
OLIVEIRA Marta Kohl de & DANTAS Heloysa. Piaget, Vigotski e Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus, 1982.
PÁDUA, G. L. A epistemologia genética de Jean Piaget. Revista FACEVV (online), número 2, p. 22-35, 2009.
PATTO, M. H. S. A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.
PENA, A. C. “Para explicar o presente tem que estudar a história do passado”: narrativas de profissionais de escolas comunitárias de Educação Infantil da Baixada Fluminense. 2015. Tese (Doutorado). Departamento de Educação. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015.
PEREIRA, L. H. P. O ritmo da vida: corporeidade, auto-expressão e desenvolvimento humano. In: CHAGS, M. E OLIVEIRA, H.(org.) Corpo expressivo e construção de sentidos. Rio de Janeiro. Mauad X: Bapera, 2008.
PIAGET, J. A linguagem e o pensamento da criança. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1959.
PIAGET, J. & INHELDER, B. A psicologia da criança. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1994.
PRESTES, Z. R. Quando não é quase a mesma coisa. Análise de traduções de Lev Semionovitch Vigotski no Brasil: repercussões no campo educacional. 2010. Tese (Doutorado). UnB, 2010.
REICH. W. Análise do caráter. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
VIGOTSKI, L. S. A formação social da mente. 7. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
VIGOTSKI, L. S. Criação e imaginação na infância. Comentários de Ana Luiza Smolka; tradução de Zoia Prestes. São Paulo: Ática, 2009.
Téléchargements
Publié
Versions
- 2021-11-12 (2)
- 2021-08-31 (1)
Numéro
Rubrique
Licence
© Alexandra Coelho Pena 2021

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International.
Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:
- Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution License que permitindo o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria do trabalho e publicação inicial nesta revista.
- Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Na medida do possível segundo a lei, a Fractal: Revista de Psicologia renunciou a todos os direitos autorais e direitos conexos às Listas de referência em artigos de pesquisa. Este trabalho é publicado em: Brasil.
To the extent possible under law, Fractal: Revista de Psicologia has waived all copyright and related or neighboring rights to Reference lists in research articles. This work is published from: Brasil.